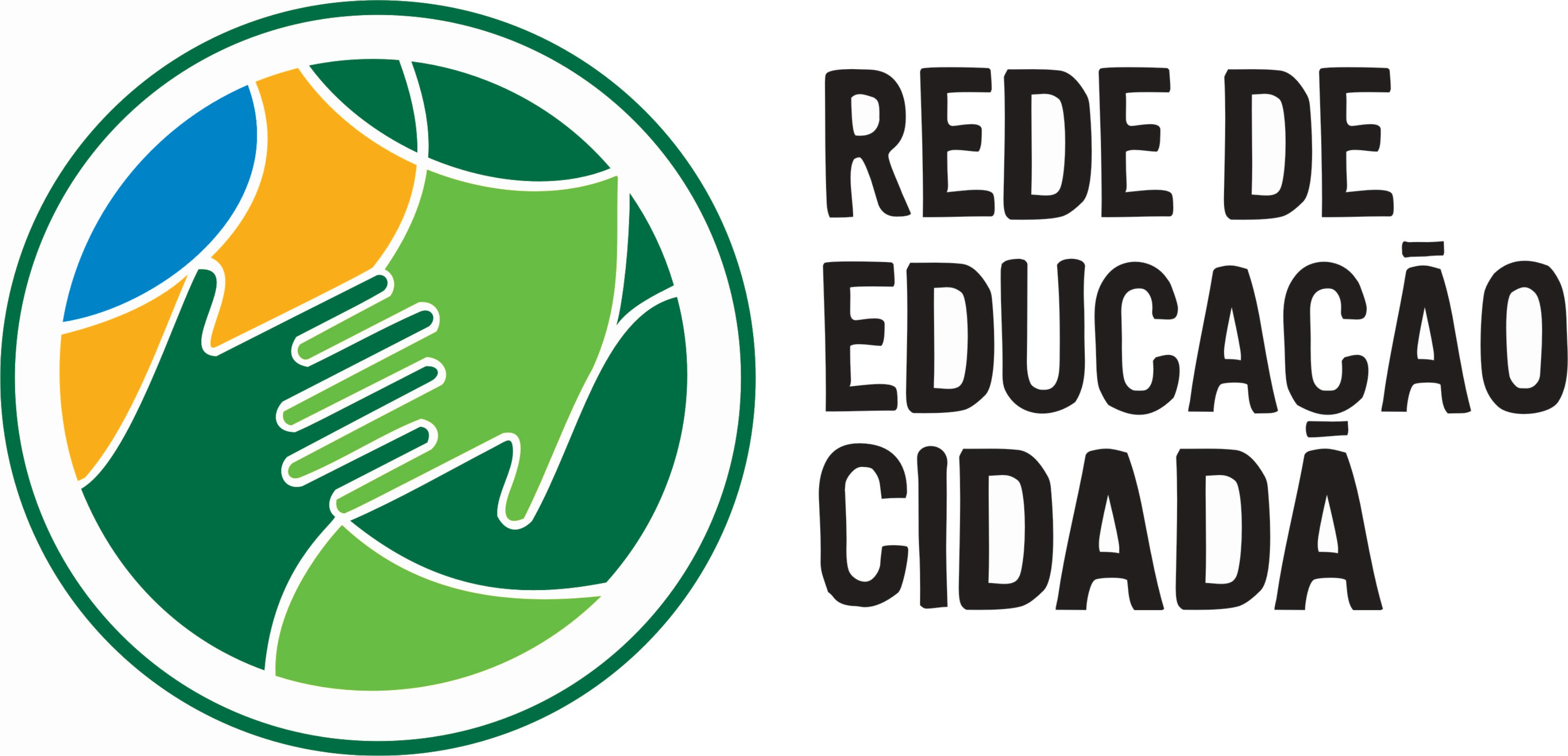O Plano Agrícola e Pecuário, o Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2007/2008 e as negociações sobre o endividamento agrícola trazem novos dados sobre o complexo contexto no qual está inserido o tema do financiamento da atividade agropecuária.
Sérgio Pereira Leite*
Dois assuntos importantes pautaram recentemente o noticiário relativo ao setor rural brasileiro: o primeiro diz respeito ao anúncio, feito pelo Governo Federal na última semana do mês de junho, do Plano Agrícola e Pecuário e do Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2007/2008; o segundo se refere às negociações envolvendo as medidas governamentais sobre o endividamento agrícola, quando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulgou, no final da primeira quinzena de julho, o resultado de uma intensa e conflitiva discussão sobre os termos que orientarão a rolagem da dívida.
O conjunto dessas medidas traz novos dados sobre o complexo contexto no qual está inserido o tema do financiamento da atividade agropecuária. Uma rápida passagem pelas diferentes peças desse jogo permite identificar, primeiramente, uma engrenagem monetária relativamente perversa à qual todo o setor produtivo da economia brasileira está atrelado. É notório que, atualmente, o Banco Central brasileiro impõe ao mercado elevadas taxas de juros, que, por sua vez, restringem as condições de empréstimos que marcam o exercício das políticas setoriais (agrícola, industrial, etc.). De fato, deve-se considerar que os bancos públicos (em especial o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o BNDES) ainda mantenham-se como os principais responsáveis pela oferta de dinheiro ao setor rural (tendo em vista a timidez que caracteriza o setor financeiro privado nessa área) e que a taxa SELIC tem caído gradativamente nos últimos meses. Porém, é inevitável negar que as condições apresentadas pelo ambiente macroeconômico no Brasil ainda são desfavoráveis a um necessário aumento no volume de investimentos que devem ser feitos para que se obtenha um crescimento sustentado (para não dizer do desenvolvimento) da economia brasileira.
Um olhar mais atento sobre essa engrenagem indicaria ainda que a participação do setor governamental no financiamento setorial, além dos condicionantes financeiros já mencionados, envolve não só a oferta de recursos para empréstimo às atividades de custeio, investimento e comercialização, mas também os gastos diretos da União com programas e ações governamentais no setor. Nesse último caso, a maior parte das despesas tem origem na atuação dos dois ministérios existentes relacionados ao meio rural: o já referido MAPA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A curiosa existência de dois ministérios, a princípio, pode aparentar uma inconsistência da intervenção pública no setor agropecuário; no entanto, a presença desses dois ministérios tem se mostrado necessária (sem prejuízo de outras disposições administrativas), por ser o Ministério da Agricultura, historicamente, um espaço de negociação, formulação e implementação de políticas públicas mais afeitas aos interesses e especificidades do setor patronal.
Já a prática de programas governamentais dirigidos aos setores não-patronais (agricultores familiares, assentados dos projetos de reforma agrária, comunidades nativas, agricultores extrativistas, ribeirinhos etc.) ainda é algo relativamente recente no caso brasileiro. Salvo raríssimas e pontuais exceções, os integrantes desses setores nunca tiveram voz no MAPA e, muito menos, nos ministérios que integram o núcleo duro do ambiente macroeconômico acima referido. Diga-se de passagem que, para estes últimos, o setor agropecuário sempre foi algo homogêneo, envolto na supostamente neutra categoria de produtor rural.
Dessa forma, concernente ao gasto público na agricultura, um estudo de 2006 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica uma participação menor do orçamento do Governo no gasto com a agricultura,, apesar do aumento do volume de recursos destinados ao crédito e uma estratégia de ações e políticas marcadas por constantes pressões, seja do setor patronal, seja do segmento de trabalhadores e agricultores familiares. Essa tensa realidade impõe, por um lado, uma lógica de curto prazo nos instrumentos empregados. Por outro lado faz com que haja uma oscilação da política do governo entre os modelos de expansão das monoculturas e das atividades criatórias de exportação (comumente denominado agronegócio) e aquele de desenvolvimento dos segmentos mais vulneráveis, privilegiando o mercado interno.
Segundo os pesquisadores do Ipea, quando tomados os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, duas rubricas do orçamento podem ser destacadas, respectivamente: a função agricultura no MAPA (concentrando praticamente 88% dos recursos, de acordo com os dados de 2005) e a função organização agrária no MDA (abarcando 87% do montante global, dados igualmente de 2005).
Comparados os anos de 1995 a 2005, há uma diminuição no peso dessas duas funções no Orçamento Geral da União (OGU), de 5,29% em 1995 (equivalente a R$ 22,938 bilhões em valores de 2005) para praticamente 2% em 2005 (R$ 12,066 bilhões). No entanto, um exame mais detalhado indica um comportamento diferenciado das duas funções, particularmente a partir de 2003. Enquanto a primeira praticamente sofreu uma estabilização, depois de quedas contínuas nos governos de FHC, a segunda, que também havia apresentado quedas nesse mesmo período, dobra seu orçamento entre 2002 e 2005, indicando um volume maior de recursos para as políticas agrárias.
Entretanto, essa análise ficaria comprometida quando se toma apenas esse lado da moeda, isto é, o gasto direto registrado nas rubricas de funções e sub-funções de ambos os ministérios. Para um tratamento correto do tema, é preciso compreender as despesas com o custo do carregamento da dívida do setor agrícola e com as chamadas equalizações de preços e juros (por exemplo, no caso da política de crédito, as equalizações de juros estariam representadas pela diferença entre as taxas que os bancos pagam para captar os recursos e aquelas vigentes para os empréstimos aos agricultores, em geral mais baixas do que as primeiras).
Deve ser dada especial atenção ao processo de renegociação da dívida dos agricultores brasileiros, concentrada, segundo estudo de 2006, dos professores José Graziano da Silva e Mauro Del Grossi, nos produtores que haviam tomado empréstimos de R$ 200 mil ou mais. Com efeito, nas negociações que resultaram no programa de securitização de 1995, os contratos de até R$ 50 mil representavam 65% do número total de operações e 8% dos recursos; já os contratos acima de R$ 200 mil compunham 14% das operações e 71% do estoque da dívida. Na renegociação dos contratos maiores, alguns anos depois, conhecida como Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA), a participação dos pequenos contratos, de até R$ 50 mil, somava 19% das operações e praticamente nada do estoque do endividamento do setor. Já as grandes operações (acima de R$ 200 mil) respondiam por 50% dos contratos e 98% do total dívida. Isso indica que a política de financiamento, em termos de custo para o Estado, tem uma contrapartida importante nos gastos quando a situação de endividamento passa a desempenhar um papel importante nas negociações entre governo e produtores rurais em torno das políticas agrícolas.
Entre 2002 e 2005 foram comprometidos, segundo o referido estudo do Ipea, cerca de R$ 9 bilhões na renegociação das dívidas, subdivididos entre a dívida mobiliária propriamente dita, encargos dos diferentes programas e a remuneração dos bancos. Assim, levando-se em conta que a maior parte desse custo refere-se ao refinanciamento de grandes agricultores, parece adequado dizer que o gasto do governo com o setor patronal n
ão deve ser compreendido apenas pelas despesas da função agricultura do MAPA (declinantes), mas integrar igualmente, os gastos com o carregamento da dívida (ascendentes). Atente-se para o fato, ainda, de que até aqui se tratou apenas do custo público do carregamento da dívida, e não do estoque (privado) da dívida propriamente dito. Este último tem sido estimado em um montante que varia de R$ 80 a R$ 131 bilhões, de acordo com a fonte consultada, como foi amplamente noticiado pela mídia nos últimos 20dias. Talvez seja o caso de nos questionarmos acerca da sustentabilidade desse modelo e seu rebatimento sobre o contexto do meio rural brasileiro. Sobretudo se levarmos em consideração o aumento dos recursos do sistema de crédito rural a juros controlados e sua distribuição desigual entre os diferentes segmentos de agricultores.
* Sérgio Pereira Leite é professor do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ) e coordenador do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura (OPPA/CPDA).