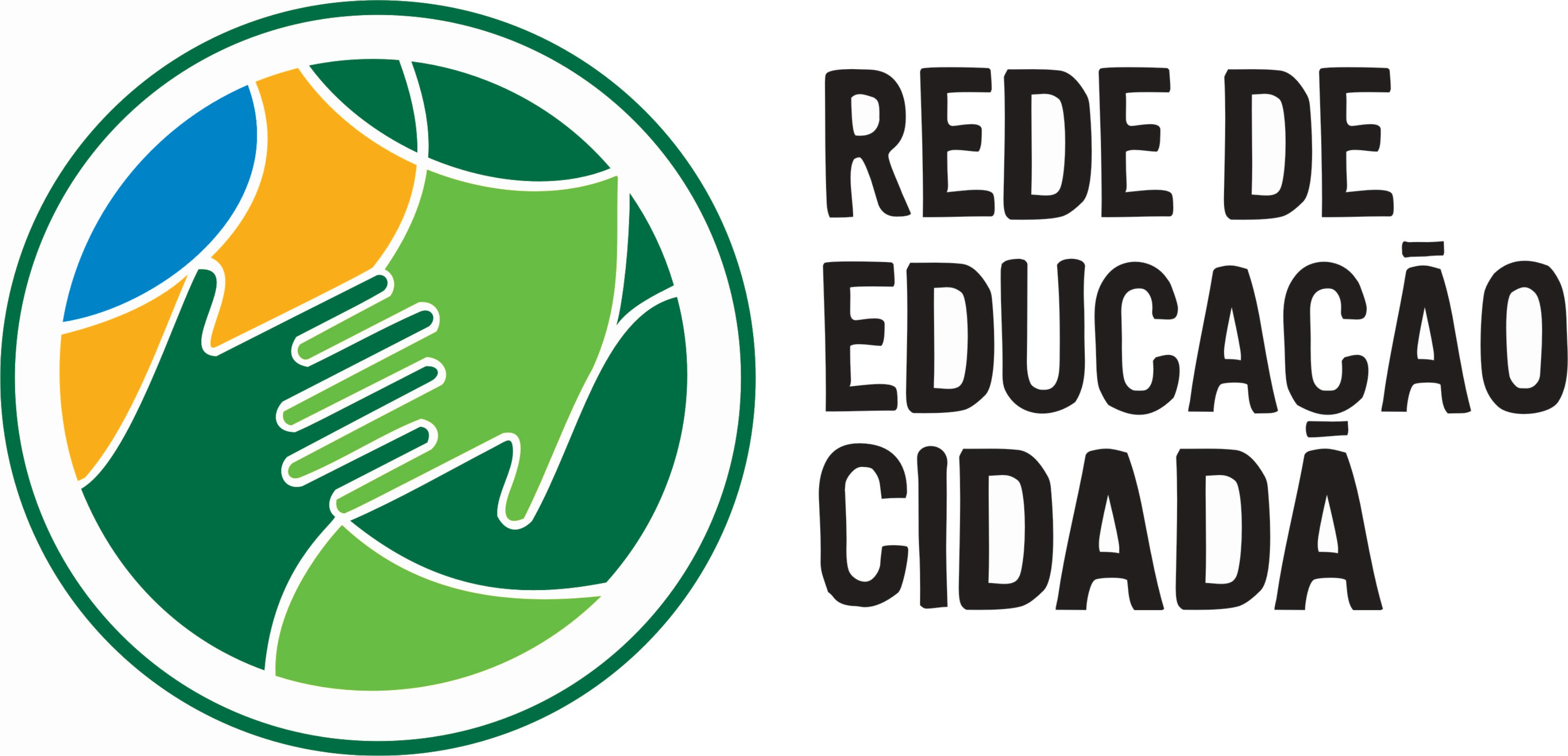Flávio Aguiar – Carta Maior
Comparar Canudos e o PCC, como fez o governador de São Paulo, Cláudio Lembo, é um equívoco histórico quase do tamanho do que levou ao massacre dos sertanejos na Bahia, em 1897. Canudos foi varrida do mapa por inépcia política das mesmas oligarquias, sua incapacidade de conviver com espaços alternativos. Os bravos sertanejos e sertanejas do Belo Monte já foram suficientemente massacrados pela história. Que não se tome o seu nome em vão.
Flávio Aguiar – Carta Maior
SÃO PAULO – A recente comparação feita pelo governador de São Paulo, Cláudio Lembo, entre a situação gerada pelos ataques do PCC e as rebeliões nos presídios do estado, e a guerra de Canudos, dá mesmo o que pensar. É certo que o governador quis externar a idéia de que uma situação de miséria leva à arregimentação dos despossuídos por lideranças e movimentos que se tornam inimigos do Estado. Mas ela também mostra um profundo desconhecimento do que vem sendo levantado sobre aquela guerra no sertão baiano nos últimos 50 de pesquisas de campo e nas universidades.
Durante 50 anos, desde sua publicação em 1902 até os anos cinqüenta, o livro de Euclides da Cunha, Os sertões, foi tido como a vulgata factual sobre Canudos. Sem dúvida o livro de Euclides, além de ser um dos mais belos da literatura mundial, é indispensável para se conhecer o sertão brasileiro, a guerra, o Brasil e o pensamento corrente na virada do século e na consolidação da república. E sem dúvida o impulso do autor é o de resgatar a efígie do sertanejo como uma espécie de pedra fundamental da identidade cultural brasileira, das ruínas ainda fumegantes e sangrentas da cidadela destruída pelo Exército, em 1897. Mas daí a toma-lo como fonte de uma verdade factual sobre o arraial, que para seus moradores era o Belo Monte, vai uma distância enorme.
Os sertões corrige muito do que saiu publicado na imprensa brasileira na época da guerra, inclusive as reportagens escritas pelo próprio Euclides, que foi enviado ao teatro dos acontecimentos pelo jornal A Província (depois O Estado) de S. Paulo. Naquela época o 14 de julho era feriado no Brasil; e a luta em Canudos foi compreendida dentro de uma linha de tempo (de herança positivista) que via história do Brasil como a da França com 100 anos de atraso. Nesse pensamento de vaga inspiração jacobina (como eram chamados os militares republicanos exaltados) os miseráveis reunidos no sertão baiano seriam a nossa edição dos camponeses da Vendéia, aqueles que, insuflados pela aristocracia girondina deposta em 1789 e premidos pela carestia que se seguiu à Revolução, se revoltaram contra os novos governantes e pela restauração da monarquia.
Nesse delírio então apresentado com foros de história científica, Canudos entrou no mesmo rol de revoltas anteriores, como a Revolução Federalista que, tendo eclodido no Rio Grande do Sul em 1893 por disputas locais, terminou por tentar depor o governo de Floriano Peixoto, e a Revolta da Armada, no mesmo momento, que também tentou derrubar Floriano. Como os revoltosos gaúchos eram conhecidos como maragatos, chegou-se à criação de um neologismo – maragunço – reunindo aqueles aos jagunços do arraial baiano, como se fossem parte de uma mesma conspiração. Essa tese encontrou apoio em menções à presença entre os combatentes de uma jovem gaúcha de 17 anos, Leonor Brígida, apelidada a Brisa, que se notabilizou no combate de Cocorobó, contra a coluna comandada pelo General Savaget.
Nessa visão tradicional, evocada agora em meio à dramática situação vivida em S. Paulo, na pior das hipóteses Canudos foi formada por um bando de miseráveis mobilizados por uma conspiração monarquista. Na melhor das hipóteses seria uma reunião dos mesmos miseráveis em torno de uma liderança equivocada, um anacronismo histórico, a liderança messiânica de Antonio Conselheiro que, por um azar de conjuntura, se tornou uma ameaça à jovem república.
Essa visão não resiste nem mesmo ao livro de Euclides. Muito menos às pesquisas e análises mais recentes. É certo que se desenvolveu também uma visão idealizada de Canudos. No primeiro artigo que escreveu sobre o assunto, Euclides chamou Canudos de a nossa Vendéia. Nessa nova visão, Canudos seria a nossa Comuna de Paris, um bastião da luta contra um sistema de propriedade iníquo e anacrônico, uma pólis sem escravos onde vicejariam ideais republicanos radicalizados e botões de um socialismo rústico mas vetorizado em direção a um coletivismo revolucionário.
Convenhamos: nem tanto à Vendéia dos fins do século XVIII, nem tanto à Paris de 1871. Canudos teve, sim, instituições republicanas muito interessantes: tinha pelo menos uma escola, com duas professoras (ou uma professora e um professor). Tinha obras comunitárias e coletivas, e cada família recebia uma espécie de aporte básico (uma espécie de renda mínima…), em caso de necessidade, para o que se mobilizava parte dos excedentes obtidos no comércio com cidades vizinhas.
Mas não era uma sociedade igualitária, ainda que para os padrões brasileiros de então e mesmo de hoje, ela fosse um modelo de social-democracia avançada. Havia comércio, havia comerciantes, havia lutas políticas internas que seguiram, algumas vezes, o padrão brasileiro comum, como no caso do comerciante assassinado com a família quando se desconfiou que ele tinha avisado os soldados do governo sobre a disposição de resistência dos canudenses. Era uma cidade tão brasileira que houve até uma espécie de golpe de estado quando começaram os embates contra as tropas locais e federais. Líderes mais militarizados, como João Abade, a família Macambira, Pajeú e outros decididamente afastaram o Conselheiro de suas funções temporais, deixando-o encarregado quase só das rezas, para assumir o controle político da cidadela.
Canudos foi uma cidade brasileira construída pelo povo pobre do sertão, como uma resposta (e mesmo tentativa de modernização includente) à crise política deflagrada pela troca de mãos (ainda que na mesma classe) do poder na passagem do império para a república oligárquica que duraria até 1930. Foi varrida do mapa por inépcia política das mesmas oligarquias, sua incapacidade de conviver com espaços alternativos, a violência de suas atitudes, e por um gigantesco equívoco histórico patrocinado pelos jacobinos de então, aferrados à nossa eterna mania de buscar alhures modelos acabados onde encaixar, mesmo que à custa de um antigo fórceps invertido (para enfiar para dentro e não puxar para fora), a sociedade brasileira e suas peculiaridades. Foi a única guerra brasileira (internacional ou civil) que não deu condecorações nem rendeu promoções a ninguém. O prestígio do Exército saiu arrasado da contenda, seja pelas acusações de massacre que se sucederam, seja pelas de desvio de carregamentos, munições, seja pelas de completa inépcia militar, sepultando qualquer pretensão de retomada do controle da república. Um dos resultados históricos desse imenso pantanal de sangue que consolidou a república brasileira, é que se custa a crer que sete anos depois do massacre, em 1904, os cadetes jacobinos da Escola Militar do Rio de Janeiro lutaram ao lado do povo na Revolta da Vacina, fato que apressou a transferência da Escola. É certo que naquela ocasião seríamos pela vacinação do povo, mas não a ponta de baioneta, ao invés de agulha, como aconteceu.
Portanto, se de tudo isso alguma conclusão se impõe, é a de que nem tanto à Vendéia, nem tanto à |Comuna, mas muito menos ao PCC. Os bravos sertanejos e sertanejas do Belo Monte já foram suficientemente massacrados pela história. Que não se tome o seu nome em vão.